Do direito de aprender ao direito de ensinar

Quando falamos em direitos humanos e educação, é comum pensarmos no direito que todas as pessoas têm de receber educação. Não há dúvidas quanto a isso. São muitos os lugares em que a infância, principalmente, está condenada a trabalhar em regime de escravidão e exploração em todos os níveis. Ou seja, tal direito não é garantido. O direito de aprender é inquestionável e prioritário em qualquer agenda política decente.
A questão é que, quando abordamos crianças e adultos que se encontram na periferia do sistema e exigimos educação para eles e elas, temos que ter cuidado para que a educação fornecida não seja mais um reprodutor da desordem estabelecida, das desigualdades do sistema.
Em diversas ocasiões, o currículo oculto dos sistemas educativos impulsiona processos que levam à absolutização da esfera laboral, sustentando funcionalmente aprendizagens relacionadas ao sucesso e à competitividade profissional, em um território onde os traços das próprias raízes sociais e culturais vão sendo pouco a pouco apagados.
Como moldar uma educação que promove o tipo de progresso e crescimento que nos levou à beira do colapso ecológico e que não consegue reduzir a desigualdade entre ricos e pobres? O direito à educação precisa velar também pelo tipo de horizonte pessoal e coletivo que oferece. Direito à educação, sim, mas não nos moldes de uma civilização que transformou o sucesso individual em berço da desvinculação social e do progresso econômico sem rumo, esquecendo-se da Casa Comum que nos acolhe: o planeta Terra.
Em alguns casos, quando o acesso à educação é protagonizado por crianças com dificuldades de aprendizado (pensemos em pessoas com deficiências físicas e/ou intelectuais), a superação se converte em norma e guia. É a educação como alavanca de superação para quem se esforça ao máximo, sempre de forma individual e sem qualquer outro tipo de conotação relacional.
Às vezes, a superação se apodera do espaço educacional, promovendo uma espécie de espetáculo onde os mais esforçados são recompensados socialmente. E o que acontece com aqueles que não conseguem chegar a tanto? E, acima de tudo, é desejável centrar o direito à educação dos mais desfavorecidos no dever da superação pessoal?
O filósofo Josep Mª Esquirol cunhou o termo “periferia” (“afueras”, em espanhol) como esse espaço ocupado por quem vive nos arredores do mundo e cujos direitos básicos são violados. “Em todos os cantos da periferia existem pessoas que, com seu modo de ser, curam as feridas do mundo”, escreve Esquirol. Além de superação, cabe falar sobre cura desde formas de ser que humanizam a vida e dão a ela uma qualidade que não cabe em nenhuma planilha Excel de avaliação. Há pessoas que sabem, e muito, sobre resiliência em meio ao sofrimento, sobre perdão e reconciliação em meio a conflitos militares, sobre trabalho cooperativo em meio a um sistema econômico que descarta os mais vulneráveis.
Caberia falar do direito à educação em termos de produção de saber e de conhecimento, de vincular redes de apoio mútuo e de construir modos de vida humanizadores por parte das pessoas que vivem na periferia do sistema; lá, onde a vida custa pouco, mas pulsa intensamente. Digamos sem rodeios: os pobres têm o direito de ensinar e de nos ensinar.
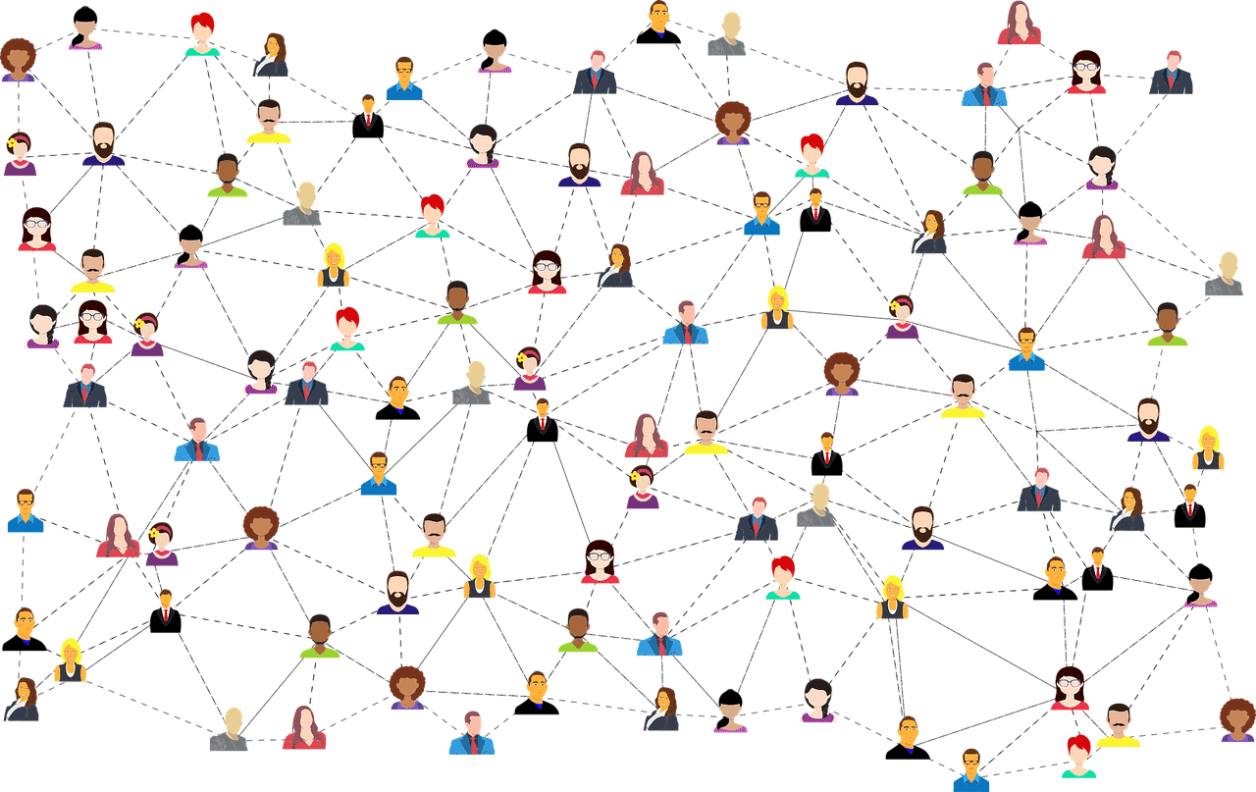
Da periferia do mundo surge um princípio de humanização e de cuidado capaz de produzir frutos ancorados em práticas que revelam as capacidades que conhecem a vida boa e que desenvolvem inteligência coletiva; aquela que —recordemos com José Antonio Marina— permite que pessoas comuns sejam capazes de fazer coisas extraordinárias em função dos vínculos e redes que criam entre elas. Essa inteligência coletiva favorece cruzamentos que enriquecem a vida, colocando simultaneamente em prática o direito de aprender e de ensinar.
De um modo muito concreto, o direito à educação se plasma no direito de falar por todas aquelas pessoas que, em virtude de sua situação pessoal ou social, são invisibilizadas, negligenciadas, não escutadas e silenciadas. Tomar a palavra para si, então, torna-se um ato que reivindica a humanidade e a dignidade de cada ser humano, em meio a uma sociedade cheia de preconceitos, estereótipos e pré-julgamentos sobre o que cada pessoa dá de si.
Nas missões pedagógicas da área de Sanabria, em Zamora [Espanha], Alejandro Casona escreve: “Nós lhes ensinamos jogos e músicas e aprendemos os delas. As crianças se divertem muito quando se sentem protagonistas! Sim, elas fazem um trabalho útil quando podem ensinar alguma coisa, quando descobrem e comprovam. Elas nos ensinam caminhos, nomes de povos e utensílios, habilidades para colher os primeiros frutos da castanheira comunal e os jogos mais primitivos dramatizados em verso.” Esse é um texto do ano de 1934.
Falar em educação é pronunciar, com fatos, que todos os agentes que participam do ato educativo educam-se uns aos outros. Atualmente, as salas de aula, que são compostas por dezenas de nacionalidades diversas, dão origem a muitas distorções, anomalias e dores de cabeça, mas constituem o começo de uma nova forma de convivência, entendida não apenas como a arte de viver entre pessoas diferentes, mas também como a capacidade de proporcionar uma vida boa uns aos outros, a partir da busca do melhor futuro que surge para todos. A educação, portanto, não trata apenas de compartilhar conhecimentos e de buscar habilidades, mas também de aprender com os acontecimentos protagonizados em sala de aula por crianças, adolescentes e jovens, com as bagagens de vida que trazem a tiracolo, com suas palavras dignas de serem ouvidas e levadas em consideração.


